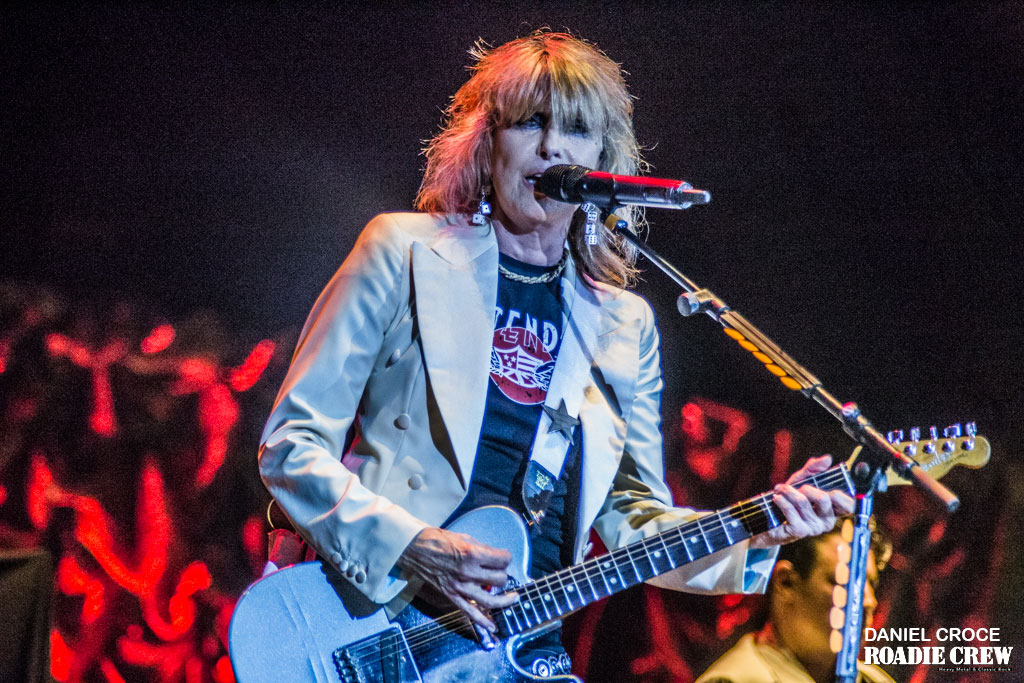Por Daniel Dutra | Fotos: Elizaveta Porodina/Divulgação
Com quatro discos de estúdio – Kadavar (2012), Abra Kadavar (2013), Berlin (2015) e Rough Times (2017) –, o Kadavar precisou de menos de uma década para se tornar um dos nomes mais bem falados de uma nova geração: bandas que bebem na fonte da música dos anos 70 para fazer um som retrô. Com as melhores referências possíveis – o rock pesado e os elementos psicodélicos de grupos como Led Zeppelin e, principalmente, Black Sabbath – e o talento de seus integrantes, o trio alemão formado por Christoph “Lupus” Lindemann (guitarra e vocal), Simon “Dragon” Bouteloup (baixo) e Christoph “Tiger” Bartelt (bateria) está longe de soar datado. Uma observação pertinente antes de você colocar os CDs para tocar como aquecimento para a turnê que, depois de passar por Uruguai, Argentina e Chile, chega ao Brasil para cinco datas: Rio de Grande do Sul (Santa Maria, 27/02), Minas Gerais (Belo Horizonte, 1º/03), Santa Catarina (Florianópolis, 02/03), São Paulo (03/03) e Rio de Janeiro (04/04). Como aperitivo, Lupus respondeu a algumas de nossas perguntas antes de o Kadavar mostrar mais uma vez a que veio.
O Kadavar tocou no Brasil pela primeira vez em 2015 e está de volta para uma turnê que passará por cinco cidades. Comecemos, então, com uma pergunta óbvia: qual a expectativa para a segunda vez?
Christoph “Lupus” Lindemann: Bem, creio que é a mesma da última vez. É uma grande honra poder viajar ao redor do mundo e chegar aos fãs da América do Sul para apresentar nossas músicas. Tivemos uma ótima experiência há três anos, então não espero menos do que isso.
E como foi a expectativa na primeira vez? Alguma frustração?
Lupus: Nós havíamos escutado de outras bandas que excursionar aí sempre foi ótimo, que as pessoas gostam muito de rock. Não houve absolutamente nenhuma decepção. Todos foram muito gentis, deram o seu máximo e queriam apenas se divertir conosco. É exatamente isso o que espero agora.
A partir do momento em que Rough Times frequentou listas de melhores álbuns de 2017 no Brasil, há o outro lado: a expectativa dos fãs está bem alta.
Lupus: Eu gosto de expectativas, porque tornam as coisas mais difíceis para mim (risos). É legal que as pessoas tenham gostado do novo álbum, porque foi muito divertido compor e produzir Rough Times. Mas isso é algo que fazemos sozinhos no estúdio, então agora queremos ver a reação dos fãs em nossos shows.
E Rough Times é pesado como sempre, mas como uma grande produção. Adorei o som de baixo, porque é cheio e orgânico, mas devo dizer que minha impressão foi a de que o Kadavar gravou seu álbum mais psicodélico até agora. Faz sentido?
Lupus: Há peso e psicodelia, canções bem diretas e algumas mais psicodélicas. Não tínhamos um conceito ou uma ideia de como o disco deveria soar, apenas que o título seria Rough Times, e compusemos as músicas basicamente na mesma ordem em que elas aparecem no álbum. No início, estávamos mais putos e queríamos deixar essa raiva transparecer, mas com o passar dos dias acabamos relaxando no estúdio. Ficamos mais leves e começamos a brincar com sonoridades e estruturas, então acho que essa leveza ficou muito bem equilibrada com as canções mais pesadas.
Essa veia psicodélica mais forte está bem representada em faixas como Tribulation Nation, A l’ombre du temps e The Lost Child, e todas têm elementos de rock progressivo, principalmente a última.
Lupus: Elas apenas aconteceram, realmente. Sempre gostei dessas partes mais progressivas em nossa música, por isso adoro quando temos muitas delas. Costumo ficar entediado rapidamente, assim passo a odiar as músicas que são muito fáceis. Em Rough Times decidimos não impor limites a nós mesmos, o que nos fez usar qualquer tipo de som ou instrumentos que achássemos necessários para fazer dele um álbum diferente de todos os outros.
A propósito, a letra de A l’ombre du temps é em francês, e no disco anterior, Berlin, vocês gravaram Reich der Träume (N.R.: cover da cantora alemã Nico). Alguma razão especial?
Lupus: Apenas porque somos uma banda alemã que lançou um disco chamado Berlin, então precisávamos que ao menos uma música fosse cantada em alemão. Caso contrário, seríamos turistas em nosso próprio país (risos). No caso de A l’ombre du temps, nosso baixista, Simon, é francês, e nós queríamos fazer algo do tipo. Tivemos a ideia certa no momento certo, porque achamos que, no fim das contas, daria um sabor diferente ao disco.
Gostaria de citar algumas músicas de Rough Times para que você comente minhas impressões. E a primeira é Die Baby Die, por causa de seu refrão viciante e ótimo groove.
Lupus: Ela surgiu na minha mente num dia qualquer e é, na verdade, uma canção bem simples, baseada na batida e no baixo. Minha guitarra é apenas a última camada, aquela que fica por cima. Remete a uma sonoridade anos 60, realmente com muito groove. Curiosamente, eu tinha outro refrão para esta música, mas estava cantando o que ficou enquanto terminava de compor, então os rapazes disseram que eu deveria mantê-la. Mantivemos e mudamos o nome para Die Baby Die.
A segunda é Worlds of Evil, que tem não apenas ótimos riffs de guitarra, mas uma produção mais limpa, diferente da sonoridade das outras músicas do álbum.
Lupus: Esta foi a única canção que compusemos bem antes de Rough Times, creio que há uns dois anos. Deve ser por isso que soa um pouco diferente, e ela foi feita com base em alguma revista em quadrinho relacionada à série “The Walking Dead”. Não lembro exatamente qual. Worlds of Evil é uma música muito New Wave of British Heavy Metal.
A próxima é You Found the Best in Me, uma bela música que deveria tocar nas rádios. Em um mundo ideal, ela poderia levar o Kadavar a outro nível de sucesso comercial…
Lupus: Sim! Talvez um dia as rádios toquem nossas músicas, mas elas ainda odeiam o nome da banda. Acredite, não chegaremos a esse nível de sucesso comercial se não mudarmos. You Found the Best in Me tem algo de Neil Young, e lembro que a compusemos em apenas duas ou três horas. Ela surgiu muito naturalmente, mas num primeiro momento pensamos que seria melhor não incluí-la no álbum, porque não soa como Kadavar. Honestamente, no entanto, depois de quatro discos eu mesmo não sei mais como soamos. Decidimos colocá-la, e encaixou perfeitamente.
Vocês gravaram uma versão de Helter Skelter. Ela é muito conhecida, e muitos dizem tratar-se da primeira canção de heavy metal na história, não que os Beatles tivessem a intenção de criar o estilo. Mas por que vocês a escolheram?
Lupus: Porque é uma boa canção, mesmo. Além disso, costumamos tocá-la ao vivo e já havíamos feito isso para uma estação de rádio em Berlim. Como a gravadora queria uma faixa bônus, mas não tínhamos nada inédito, optamos por uma versão bem suja de Helter Skelter. A verdade é que ninguém tem a menor chance de fazer melhor quando grava um cover dos Beatles, mas gosto do som de garagem da nossa versão.
Vocês gravaram três videoclipes até o momento, e o de Into the Wormhole tem cenas bem fortes. Qual a mensagem que tentaram passar?
Lupus: A mensagem é que não há mensagem. O cara que você vê no clipe é David Sphaèros, vocalista do Aqua Nebula Oscillator, antiga banda do Simon. Ele mora naquela caverna com todas aquelas criaturas e bonecos que você também vê no vídeo, então a música é sobre o David. Encontramos um amigo que já havia feito alguns videoclipes com ele, e os dois toparam fazer mais um quando perguntamos se seria possível.
O press release de Rough Times tem uma definição interessante: ‘É normal que as pessoas queiram colocá-lo em alguma caixa, e é nosso trabalho criar a nossa própria e chamá-la de Kadavar’. De fato, as pessoas rotulam o som da banda como stoner, mas como você o chamaria?
Lupus: Não é algo que eu tenha de fazer. Apenas toco música e faço a minha arte. Se as pessoas gostam, legal. Se elas não gostam, legal também. Toco rock’n’roll, apenas isso.
Dito isso e considerando a trajetória do Kadavar de 2010 até hoje, como você descreveria cada um dos discos da banda?
Lupus: Nosso álbum de estreia, Kadavar, não é de todo ruim, mas nossa performance é descuidada e ingênua. Talvez seja essa a razão por que as pessoas gostam dele. Abra Kadavar mudou muitas coisas para a banda. Foi nosso primeiro trabalho na Nuclear Blast, e o lançamos apenas um ano depois de Kadavar, então acho que deveríamos ter gastado mais tempo nele. Berlin é nosso único disco experimental. Foi gravado, mixado e masterizado por terceiros (N.R.: Pelle Gunnerfeldt e Robin Schmidt). Gosto das músicas, mas aquele som não é verdadeiramente nosso. Funcionou apenas em algumas faixas. Rough Times foi produzido por nós mesmos, novamente, e gravado em nosso estúdio. É o melhor trabalho que fizemos até agora.
Nos últimos anos surgiram vários grupos inspirados nos grandes nomes que começaram tudo. Kadavar, Vintage Trouble, The Vintage Caravan, Blues Pills, Rival Sons, Radio Moscow, Inglorious… Alguns são mais pesados, outros mais ‘bluesy’, mas o foco principal é o rock’n’roll. Como você explicaria isso?
Lupus: Eu não sei. Creio que as pessoas gostam de música feita à mão, orgânica, e pode ser que essa onda tenha começado muito antes das bandas que você citou, porque não conheço todas elas. Quando o Wolfmother lançou seu primeiro disco, em 2005, e o Witchcraft também, na mesma época (N.R.: em 2004, e os dois álbuns são autointitulados), eu me apaixonei por esse som honesto e analógico. Queria fazer igual, mas levei cinco anos para encontrar as pessoas certas (N.R.: o primeiro baixista do Kadavar foi Philipp “Mammut” Lippitz, substituído em 2013 por Simon “Dragon” Bouteloup).
E os grandes nomes que serviram de inspiração estão aos poucos nos deixando. Em cinco ou dez anos, a maioria das bandas que crescemos ouvindo não estará mais na ativa. Que futuro a música reserva para a geração na qual o Kadavar está incluído? Para você, é uma transição normal ou um grande desafio ocupar esse espaço?
Lupus: Honestamente, eu não me importo. Assim como as ondas, a arte emerge e desaparece para emergir e desaparecer novamente, e assim por diante. Vou surfar essa onda enquanto puder e estiver me divertindo. Viajo ao redor do mundo com meus melhores amigos e tenho a chance de encontrar pessoas incríveis, mas vai chegar o dia em que isso tudo terá um fim. Não sei quando, mas alguns anos depois novas bandas darão sequência ao que foi feito antes. Elas continuarão no caminho que nós já percorremos e provavelmente serão muito melhores do que as atuais.
Clique aqui para acessar a entrevista original no site da Roadie Crew.