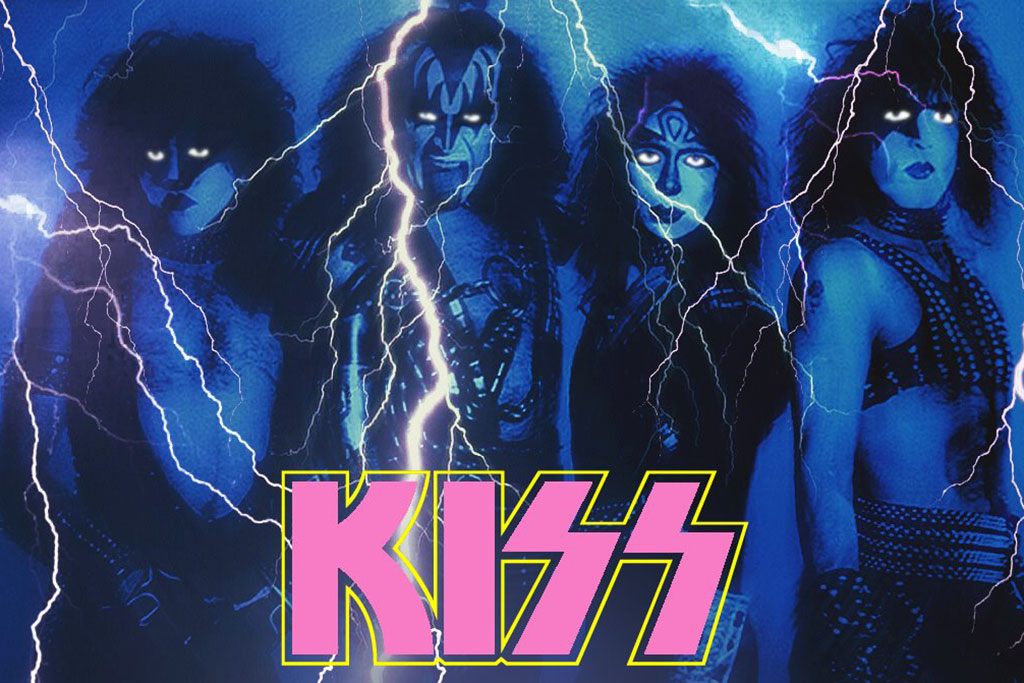Por Daniel Dutra | Fotos: Divulgação, Reprodução e Arquivo Pessoal
Os anos 70 haviam apresentado aos brasileiros os shows de Carlos Santana (1973), Alice Cooper (1974), Rick Wakeman (1975) e Genesis (1977), e os 80 tiveram sua iniciação com Queen (1981) e Van Halen (1983). Mas nada se compara à estreia do KISS no país, seis meses depois da passagem de David Lee Roth, Eddie Van Halen, Michael Anthony e Alex Van Halen. Para uma grande parte da geração que hoje tem entre 40 e 50 anos, o heavy metal – em todas as suas vertentes – começou com Creatures of the Night e ganhou contornos definitivos quando Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Carr e Vinnie Vincent desembarcaram no Brasil para apresentações no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em São Paulo, nos dias 18, 21 e 25 de junho, respectivamente.
Trinta e cinco anos depois do primeiro show, no Maracanã, para o maior público da carreira do KISS, a história ainda é contada em prosa e verso por fãs e pela banda. Para o bem e para o mal. Os detalhes numa época de informação analógica, ingenuidade e romantismo – e ‘business’ para Stanley e Simmons – só foram revelados ao longo dos anos: Creatures of the Night tinha Ace Frehley apenas na capa, o grupo andava em baixa nos Estados Unidos, a turnê no Brasil não foi um mar de rosas… Ainda assim, 35 anos depois, nada disso importa para um sem-número de fãs brasileiros que até hoje acompanham a banda, incluindo aqueles que só puderam ver o KISS nas turnês seguintes (1994, 1999, 2009, 2012 e 2015).
Creatures of the Night
“Para nós, Creatures of the Night foi feito sob o choque e a percepção de havíamos nos perdido completamente”, escreveu Paul Stanley em sua autobiografia, “Face the Music – A Life Exposed” (2014). “O disco foi uma declaração de que estávamos de volta aos trilhos, e Eric (Carr) ficou aliviado, porque era isso o que esperava desde o começo. Ele estava definitivamente mais feliz durante todo o processo.” Sim, é preciso falar do décimo disco de estúdio do KISS, porque ele faz parte do contexto. Depois de namorar o pop e a disco music – Dynasty (1979) e Unsmasked (1980) – e até flertar com o rock progressivo – Music from the Elder (1981) –, o grupo perdeu a sua essência. Não era mais rock’n’roll. Não era mais o inimigo número 1 dos pais. Não metia mais medo.
Musicalmente, Creatures of the Night foi mesmo uma volta às raízes, e com uma boa adição de peso. Hoje, é um clássico, o favorito de muitos fãs, um dos melhores trabalhos da banda, mas à época não foi bem assim. Apesar de ter se saído melhor que o seu antecessor – chegou ao 45º lugar no ranking da Billboard, 30 posições acima de Music from the Elder –, só sentiu o cheiro do Disco Ouro nos EUA em 9 de maio de 1994. Com Ace Frehley somente na foto e nos créditos, o álbum contou com convidados na guitarra solo: Robben Ford, Steve Farris e o até então desconhecido Vincent Cusano, que também assinou a composição de três músicas – duas com Simmons (I Love it Loud e Killer) e uma com Stanley (I Still Love You).
“Nós gostamos de Creatures of the Night e esperávamos pelo melhor, mas ele se saiu mal. Agendamos uma turnê pelos Estados Unidos, a mais malsucedida que fizemos até hoje”, contou o baixista em “KISS and Make-Up” (2001), sua autobiografia. “A cena musical estava mudando, e artistas como Michael Jackson e The Clash encontravam-se em ascensão, então ninguém aparecia para nos ver. Era assim na América do Norte, mas fora dela, especialmente na América do Sul, nós tocamos para as maiores audiências de nossas vidas, em estádios lotados de gente.” Enquanto não se sustentava nos EUA, Creatures of the Night recebia Disco de Ouro no Brasil, em 1983, e emplacava um hit que ultrapassou as fronteiras do heavy metal no país: I Love it Loud.
A 10th Anniversary Tour
Creatures of the Night chegou às lojas em 13 de outubro de 1982, e no dia 29 de dezembro o KISS começou a sua turnê de divulgação, já com Vincent Cusano atendendo por Vinnie Vincent, na persona de Ankh Warrior ao lado de Starchild, The Demon e The Fox – Ankh, a cruz da maquiagem do guitarrista, é um símbolo egípcio que significa vida. Incluindo apenas os EUA e o Canadá, a turnê durou até 3 de abril de 1983 e foi um fiasco para os padrões do grupo: média de público de cinco mil pessoas por show.
“Obviamente, tínhamos de pagar penitência pelo que fizemos em Unmasked e Music from the Elder. E pagamos com Creatures of the Night, mas os fãs não estavam nos perdoando. Foi muito ruim na maioria das cidades. Antes de irmos para o palco, ouvíamos o ‘You wanted the best, you got the best, the hottest band in the land…’, então entrávamos para descobrir que não tinha ninguém na plateia. Algumas vezes havia mil pessoas numa arena que comportava 15 mil”, disse Stanley, ilustrando o desolador cenário. “Nós havíamos lotado aquelas mesmas arenas cinco anos antes, mas se dessa vez eu jogasse minha paleta muito longe, ele passaria pela cabeça das pessoas e cairia no chão.”
Depois da tempestade, a bonança. Os rumores da vinda ao Brasil se tornaram realidade no mesmo mês em que o KISS encerrara o giro norte-americano. Outdoors espalhados pelas cidades que receberiam a banda foram suficientes para alavancar as vendas de Creatures of the Night (percebeu a conexão?), causar alvoroço em quem já era fã da banda e começar a formar a geração que, a partir daí, virou membro do KISS Army. Stanley, Simmons, Carr e Vincent chegaram ao Brasil em 14 de junho, quatro dias antes do primeiro show, no Rio de Janeiro, e enfrentaram protestos de cristãos e evangélicos com as alegações de sempre: a banda é satânica e faz apologia ao nazismo – risível, uma vez que Simmons, judeu nascido em Israel, só está entre nós porque sua mãe, Florence Klein, escapou da câmara de gás num campo de concentração na Hungria. A esposa de um oficial da SS precisava de uma cabeleireira.
O Maracanã entra para a história
A melhor de todas, porém, era que os Garotos a Serviço de Satanás pisavam em pintinhos e sacrificam animais no palco. Não foi o que aconteceu em 18 de junho, quando 137 mil pessoas lotaram o Maracanã para assistir à apresentação de estreia no Brasil. “(…) Tocamos para 180 mil fãs enlouquecidos no Estádio do Maracanã, no Rio”, lembrou Stanley, fazendo uma confusão comum em relação ao público presente naquela noite de sábado. “Foi a maior audiência para a qual tocamos até hoje. Ao me apresentar num estádio de futebol na América do Sul, percebi que os estádios que consideramos grandes nos Estados Unidos são muito pequenos em comparação. Minúsculos. Quando você entra num local como o Maracanã, se sente no fundo de um barril de petróleo.”
Alguns dias depois, o show carioca virou um especial de 40 minutos na Rede Globo – que não tem mais a fita master com a gravação bruta da apresentação. O programa incluiu declaração de fãs, como a menina que caiu no conto de dizer que KISS significa (abre aspas, mesmo) “Kids In Service of Satanás”, e da própria banda, que teve de responder se era mesmo verdade que sacrificava animais no palco. A desinformação e a falta de assuntos relevantes estiveram presentes também na coletiva de imprensa, realizada no Rio de Janeiro, e em programas de TV que fizeram a cobertura prévia do evento. O falecido empresário Marcos Lázaro, um dos responsáveis por trazer o grupo ao Brasil, teve de responder que nenhum bichinho seria morto, e houve até matéria com a técnica em retratos falados da Secretaria de Segurança Pública do estado para que ela descobrisse a identidade dos integrantes. Assim como ainda hoje existem protestos de evangélicos – vide a passagem do KISS por Brasília em 2015 –, a grande mídia continua com certos ranços do passado quando o assunto não é do seu domínio. Ou do seu interesse.
Mas aquele 18 de junho ficou marcado a ponto de a banda incluir de alguma maneira o show no Maracanã em vídeos lançados nos anos seguintes. Exposed (1987) tem I Love it Loud na íntegra; X-treme Close-Up (1992) apresenta trechos de Calling Dr. Love e War Machine; Kissology Vol. 2: 1978-1991 (2007) traz 20 minutos do especial da Rede Globo; e um novo videoclipe para Rock and Roll All Nite, editado ainda na década de 80, traz cenas em meio a várias outras colagens. “Não há como descrever a energia que um público daquele tamanho emana. E toda a energia era direcionada para nós em cima do palco”, lembra Stanley. “Você pode dizer que o ar estava eletrificado ou que havia uma sensação de antecipação, uma histeria. Não importa como chame, quando isso é direcionado a você, é como se fosse uma enorme onda que o consome. A quantidade de poder empurrando-o para frente é incrível. Quase pode tirar seus pés do chão.”
O KISS deveria se apresentar dois dias depois no Mineirão, em Belo Horizonte, mas o show acabou adiado para o dia seguinte por causa de problemas elétricos. Então governador de Minas Gerais, Tancredo Neves negou o pedido de líderes religiosos para que a data fosse cancelada, mas um juiz determinou que nenhum menor de 16 anos poderia entrar no estádio sem os pais ou algum responsável legal. Ainda assim, 30 mil fãs assistiram, no dia 21, a uma apresentação com direito a Paul Stanley fazendo média ao usar uma camisa do Atlético-MG.
A apresentação em São Paulo acabou sofrendo com o atraso de um dia no estado vizinho, e o show passou do dia 24 para o dia 25. Na coletiva de imprensa, Stanley, Simmons, Carr e Vincent apareceram sem maquiagem, apenas com lenços cobrindo o rosto. Sessenta mil fãs compareceram ao Morumbi para testemunhar (sem saber, claro) o último show do KISS com as maquiagens até 1996, quando a formação original se reuniu para uma bem-sucedida turnê mundial que passou pela América do Sul, mas não veio ao Brasil. Curiosamente, os paulistas seriam os primeiros a ver o KISS, e em duas datas (10 e 11 de junho), não fosse a necessidade de passar a cidade para o fim da turnê, em virtude das chuvas que castigavam a capital – um agravante também para a mudança de 24 para 25, diga-se. A despedida ainda teve direito a I Love it Loud tocada duas vezes, a segunda no bis, no lugar de Strutter.
Aproximadamente 230 mil pessoas compareceram aos três shows do KISS no Brasil, mas nos bastidores nem tudo correu bem. Os promotores perderam dinheiro com as mudanças de datas e o cancelamento de um show – seriam dois em São Paulo, e no fim houve uma fracassada tentativa de incluir Porto Alegre na logística. A lição do KISS, no entanto, foi diferente. “Apesar de a experiência ter sido depressiva em alguns aspectos, ela abriu nossos olhos para a ideia de que nenhuma cidade e nenhum mercado são definitivos”, disse Simmons. “Se você não está indo bem nos Estados Unidos, vá para o Brasil. Se não está dando certo na Colômbia, tente a Itália.” O baixista se refere aos problemas que a banda teve com a alfândega brasileira, que reteve todo o equipamento durante seis meses. Esta teria sido não apenas a razão de a negociação para uma turnê na Argentina ter morrido – seriam três shows em agosto –, mas também da demora em voltar ao Brasil. Felizmente, águas passadas.
You wanted the best, you got the best!
Por que a primeira vinda do KISS ao Brasil é tão especial? Por que Creatures of the Night é tão especial? Para mim, é especial exatamente porque, 35 anos depois, estou escrevendo estas linhas com prazer e orgulho. Eu tinha 5, 6 anos quando herdei do meu pai a paixão pela música, a começar por Beatles, Elvis Presley e Led Zeppelin, algumas de suas paixões dentro do rock’n’roll – a outra, o Rolling Stones, nunca desceu. E eu tentei, várias vezes, mas achava pior a cada audição. De qualquer maneira, não foi aí que o estrago aconteceu.
Lembro-me como se fosse hoje que, com 8 para 9 anos, assisti ao videoclipe de Shandi no Super Special, programa musical da Bandeirantes (não, a emissora ainda não era chamada de Band). Fiquei fissurado com aqueles quatro caras maquiados, apesar de não saber do que se tratava, apesar de obviamente não saber que Ace Frehley e Peter Criss não estavam mais no KISS. Porque eu não sabia nem mesmo que a banda havia lançado dois discos – Music from the Elder e Creatures of the Night – depois do álbum – Unmasked – que tem aquela música. Eu só sabia que aquilo era melhor coisa que eu já havia escutado. O que meu pai fez? Certamente orgulhoso por ver seu moleque se interessando sozinho por algo, saiu no dia seguinte e comprou o novo álbum daquele grupo chamado KISS.
Não sei precisar quantas vezes ouvi Creatures of the Night (tenho o vinil até hoje, 35 anos depois), mas ele mudou a minha vida. Algumas semanas depois, talvez um mês, os outdoors anunciavam que o KISS iria tocar no Maracanã, a poucos quilômetros da minha casa. Meu pai comprou os ingressos, mas não pôde me levar. Passou mal no dia, e eu, já com 9 anos, só entendi o porquê dois meses e dez dias depois, quando ele faleceu. Aquela noite de sábado, 18 de junho, foi o melhor show que eu nunca vi, porque ele marca o que meu pai fez por mim. E ele esteve comigo em todos os 15 shows do KISS que pude ver desde então. Ele estará comigo no próximo. E ele está comigo sempre que coloco Creatures of the Night para rolar.
E você? Qual a sua história?