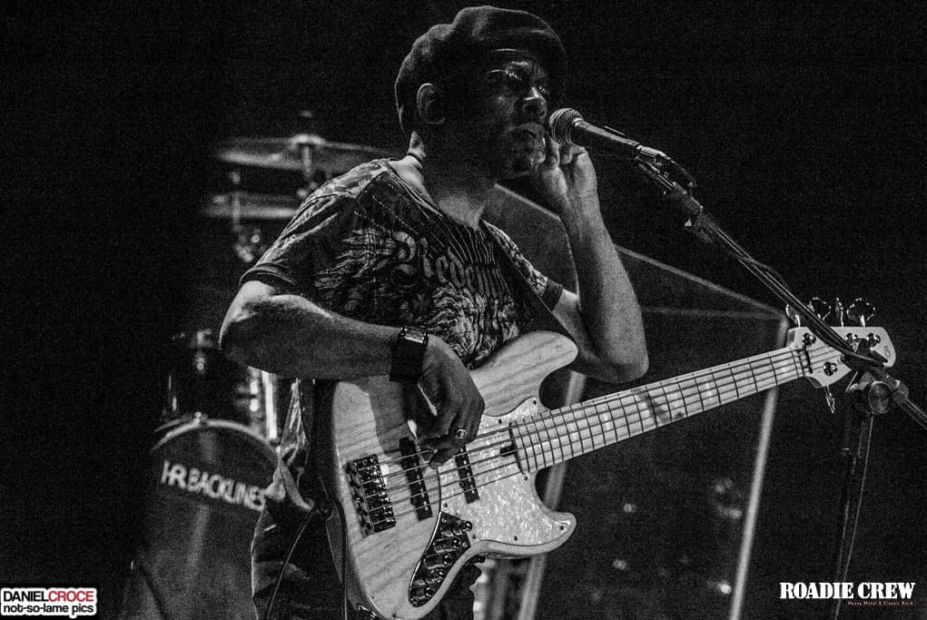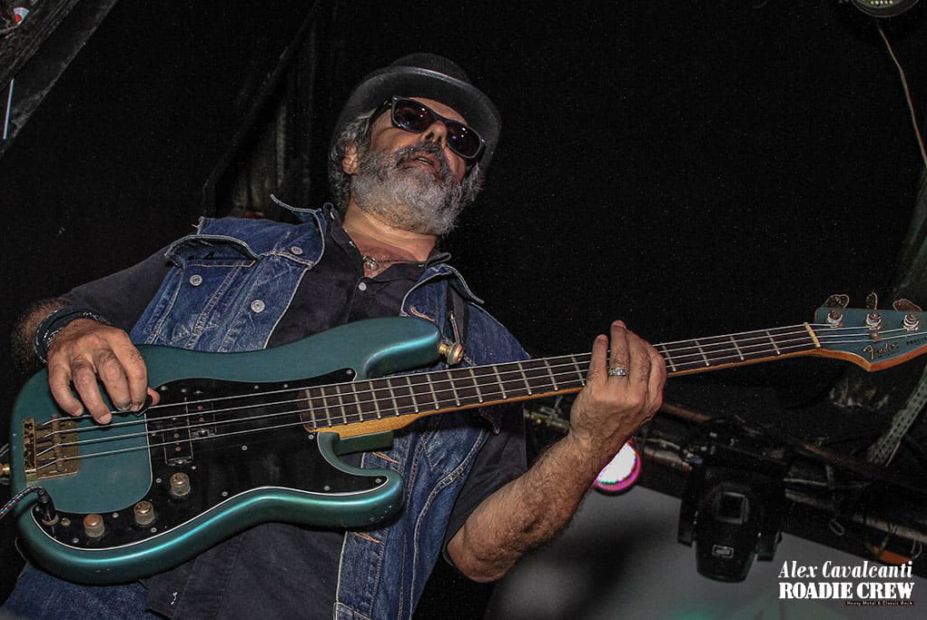Por Daniel Dutra | Fotos: Divulgação
A essa altura, a chance de você já ter assistido a “The Dirt” é muito grande, mesmo que na casa de um amigo que tenha Netflix, plataforma de streaming onde a cinebiografia do Mötley Crüe estreou no dia 22 de março. Ou pelo menos foi de alguma maneira envolvido pelo longa, porque o barulho não foi pequeno. A história de Vince Neil (vocal), Mick Mars (guitarra), Nikki Sixx (baixo) e Tommy Lee (bateria) para as telonas – baseada no best-seller “The Dirt: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band”, lançado em 2001 – rendeu até mesmo um especial com destaque de capa na ed. #243 da Roadie Crew. Faltava falarmos com algum integrante para fechar o pacote, e foi o que aconteceu: conversamos com Neil para saber suas impressões sobre o filme e as músicas inéditas que compõem a trilha sonora e, principalmente, colocaram o quarteto junto num estúdio depois de mais de quatro anos – a última canção gravada pela banda havia sido All Bad Things, em 2015. Infelizmente, no entanto, o vocalista pôde responder apenas seis das 26 perguntas que estavam na pauta – e que levariam o papo muito mais a fundo na carreira do Mötley Crüe e, diga-se, do próprio Neil. Mas como alguma coisa é melhor do que nada, confira o que ele teve a dizer.
Qual foi a sua reação ao assistir à versão final de “The Dirt” pela primeira vez?
Vince Neil: Fiquei surpreso com o quão bom é o filme! Quando comecei a assistir, pensei que passaria o tempo todo criticando, tipo ‘Isso não aconteceu dessa maneira’ ou qualquer coisa parecida, mas bastaram os primeiros 15 minutos para eu esquecer até mesmo que era sobre nós. No fim, percebi que se trata de um ótimo filme, simples assim, porque eu havia mesmo assistido a um ótimo filme de rock’n’roll! Fiquei realmente impressionado com os atores (N.R.: Daniel Webber interpretou Neil, enquanto Douglas Booth fez o papel de Nikki Sixx; Iwan Rheon, de Mick Mars; e Colson “Machine Gun Kelly” Baker, de Tommy Lee) e com a maneira como a nossa história foi contada, uma vez que “The Dirt” ficou de fato preso ao livro. Obviamente, é muito difícil colocar dez anos de loucura em apenas duas horas, mas todos fizeram um grande trabalho ao escolher e trabalhar as coisas certas para o roteiro.
Especificamente sobre Daniel Webber, você deu a ele alguma orientação? Alguma cena e interpretação dele o fizeram ficar arrepiado?
Vince: Não tive uma chance sequer de aparecer para assistir às gravações, mas pude conversar algumas vezes por telefone com Daniel, que fez o dever de casa direitinho ao me estudar, incluindo meus movimentos e minha personalidade. Ele deve ter visto muitas, mas muitas filmagens e entrevistas minhas! (risos) Todas as cenas me deixaram arrepiado, porque ficaram perfeitas. Por exemplo, sabe a cena do primeiro show, quando eles começam a tocar? Os movimentos que ele fez no palco são absolutamente iguais aos meus! Até mesmo o meu comportamento na cena do primeiro ensaio, quando entrei para a banda, foi exatamente daquela maneira. Foi impossível não ficar arrepiado vendo aquele cara me interpretar.
Vamos falar das novas músicas, mas começando por uma questão mais abrangente: as pessoas podem achar que foi óbvio ou até mesmo obrigatório registrar material novo para a trilha sonora, mas me parece que o processo foi bem orgânico.
Vince: A verdade é que nós não nos separamos, apenas paramos de fazer turnês. Ainda somos uma banda, ainda somos quatro caras que têm uma empresa muito legal chamada Mötley Crüe. A ideia de compor novas músicas começou a nos rondar assim que nos reunimos para discutir o filme, então vocês sempre estarão ouvindo falar de nós. De uma maneira ou de outra.
A respeito de The Dirt (Est. 1981), a participação de Machine Gun Kelly deu um sabor diferente à música. Apesar de ele interpretar o Tommy Lee, acredito que foi ideia deste convidá-lo… Você sabe, por causa do lance hip hop.
Vince: Nós procuramos o MGK, para que ele acrescentasse suas partes, quando estávamos trabalhando na versão final da música, mas algo me diz que ele e Tommy queriam fazer algo juntos já havia um tempo (risos). De qualquer maneira, funcionou perfeitamente.
Ride With the Devil, com um groove e refrão ótimos, é a minha favorita, até porque me remeteu ao Mötley Crüe dos anos 80. O que você acha disso?
Vince: No geral, acredito que todas as músicas ficaram muito, muito legais. Bom, com Bob Rock no comando não tinha como ficarem ruins, porque se trata de um ótimo produtor. Ele sabe extrair o melhor de cada um de nós (N.R.: Rock havia trabalhado com o Mötley Crüe nos álbuns Dr. Feelgood, de 1989, e Mötley Crüe, de 1994, além das faixas inéditas da coletânea Decade of Decadence, de 1991).
Por último, Crash and Burn soa para mim como uma evolução natural de Saints of Los Angeles (2008).
Vince: Não acho que exista uma correlação direta entre ela e Saints of Los Angeles, mas nós definitivamente queríamos que as novas músicas passassem aquele sentimento de serem canções orgânicas do Mötley Crüe. Além disso, procuramos que elas refletissem tanto o filme quanto o livro.
Confira o canal do Resenhando no YouTube!